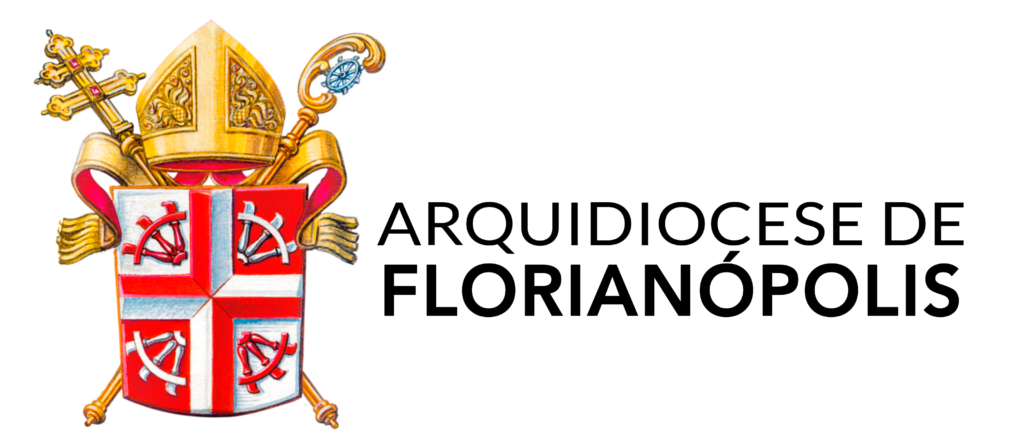Como normalmente tem ocorrido em nosso tempo, vimos nos últimos dias, no caso do menino inglês Charlie Gard, uma grande polarização de posições que muitas vezes não parecem estar preocupadas com os fatos, mas com as ideias que são defendidas. Dentro das questões morais é claro que existem princípios que devem guiar nossa reflexão, mas os casos não são ideias abstratas ou meras bandeiras a ser levantadas, mas sempre são casos singulares, com suas próprias circunstâncias e complexidade.
Como normalmente tem ocorrido em nosso tempo, vimos nos últimos dias, no caso do menino inglês Charlie Gard, uma grande polarização de posições que muitas vezes não parecem estar preocupadas com os fatos, mas com as ideias que são defendidas. Dentro das questões morais é claro que existem princípios que devem guiar nossa reflexão, mas os casos não são ideias abstratas ou meras bandeiras a ser levantadas, mas sempre são casos singulares, com suas próprias circunstâncias e complexidade.
Vendo o caso nessa sua singularidade, não há dúvida que existe uma carga dramática e afetiva profunda na relação desses pais com seu filho Charlie. Assumir que um filho amado possui uma doença muito rara e grave, com certeza não é algo simples. Buscar respostas objetivas dentro de uma sociedade impregnada por uma “cultura de morte” pode dificultar ainda mais a situação – como saber quando as opiniões técnicas são fruto dessa “cultura de morte” ou são o melhor que poderia ser feito para um filho amado?
Nesse sentido, vejo como algo normal que os pais tenham buscado os mais diversos tipos de tratamento e inclusive conseguido arrecadar uma soma significativa de dinheiro para possíveis tratamentos para seu filho. Porém, a questão objetiva é que não existe um tratamento real para o Charlie que pudesse cura-lo. Os médicos e os próprios pais sabiam que os tratamentos experimentais propostos não curariam a criança, mas apenas prolongariam por um tempo a sua vida. Quanto à dor e ao sofrimento dessa criança, ninguém é capaz de saber se existia ou não. Parece que, nessas circunstâncias específicas, considerando a qualidade de vida dessa criança e a impossibilidade real de cura, insistir em um tratamento experimental seria um erro chamado distanásia. A distanásia está no extremo oposto da eutanásia – enquanto esta seria antecipar a morte (seja por uma ação ou uma omissão), aquela seria prolongar a vida sem aceitar o fim da mesma, recorrendo a meios desproporcionados para isso e acarretando sofrimentos desnecessários.
Com esse comentário anterior, é necessário deixar claro – ainda que de modo breve – dois pontos. Por um lado, não podemos cair em um vitalismo, como se a postura cristã fosse de uma defesa do prolongamento da vida a qualquer custo – nossa fé nos dá a segurança e tranquilidade de podermos aceitar a morte, sem necessidade de recorrer a todos os meios que estejam disponíveis. É mais, em determinadas circunstâncias, esses meios podem ser claramente desproporcionais para simplesmente prolongar a vida. Por outro lado, é certo que a qualidade de vida não é um fator absoluto para determinar a vida ou a morte de uma pessoa, mas é um fator que deve ser levado em conta no final da vida. A morte faz parte da vida e é necessário que saibamos aceita-la.
Voltando ao caso, parece que insistir em impor um tratamento a essa criança, com a consciência clara de que se aportaria muito pouco à mesma e sem saber o grau de sofrimento acarretado, seria ferir a dignidade humana. O tratamento necessário seria o que se chama tratamento paliativo – um tratamento para reduzir ao máximo qualquer desconforto a essa criança. Podemos ir além – de maneira objetiva, o suporte vital, neste caso, poderia sim ser considerado um meio desproporcional de prolongamento da vida. Agora é fundamental ter consciência da razão pela qual se removeria tal suporte vital – se é removido por querer a morte dessa criança ou se é removido por ser considerado um meio desproporcional. Externamente, nos dois casos se tratará da remoção do suporte vital que levará a criança à morte, mas, moralmente, no primeiro caso estaríamos simplesmente assassinando essa criança, enquanto que no segundo caso estaríamos removendo algo que não é necessário (ainda sabendo e aceitando que a criança morrerá, não o fazemos com o objetivo de matá-la). Sim, a diferença aparente é mínima, mas a diferença moral é absoluta.
Dentro de toda essa questão, seria um grave erro não considerar a intervenção do Estado e a “cultura de morte” que impregnou o caso. Se por um lado parece que insistir em um tratamento oneroso para a criança seria uma distanásia, também é certo que o Estado não poderia interferir em algo que não lhe compete. A sentença que impede remover a criança para os Estados Unidos e ser submetida a um tratamento já seria bastante discutível – sendo uma responsabilidade direta dos pais, até que ponto o Estado poderia determinar que o tratamento não fosse realizado (ainda assim pode ser discutível tendo em vista o benefício direto da criança). Porém, a sentença que determina o desligamento dos aparelhos é, sem dúvida, imoral. Cabe ao paciente – e neste caso aos seus pais – determinar quando se desligariam os aparelhos, pois há um grau subjetivo muito grande nessa decisão moral. Como já foi colocado, objetivamente a remoção dos aparelhos não seria imoral, mas não compete ao Estado determinar quando essa ação deve ser realizada – é inadmissível que essa ação seja realizada contra a vontade dos pais. Também se fez patente que a remoção do suporte vital não se fez com base no benefício da criança, mas por uma questão de cunho financeiro – quanto custa uma vida? Os tratamentos paliativos são eficazes para garantir que a criança não sofreria até a decisão dos pais de remover o suporte vital, mas o Estado – representando a “cultura de morte” do nosso tempo – retira dos pais essa decisão e decreta, moralmente, o assassinato de Charlie.
Que possamos, sem cair em extremismos, respeitando e dialogando com as vozes contrárias, ser representantes dessa cultura da vida e anunciar a beleza da vida ainda nas dificuldades que possam aparecer.
Charlie Gard, distanásia e intervencionismo do Estado
Por Pe. Hélio Luciano